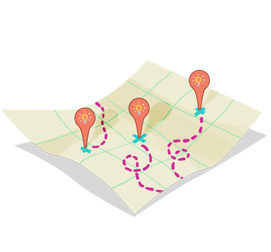Luciene Godoy //
Dançar com o outro, com o ser amado, é também dançar com a vida. Dançamos em muitos lugares à condição de termos corpo.
Não estranhe essa afirmativa. Ter corpo não é coisa para qualquer um. Ter um organismo todos têm, mas ter corpo é só para quem faz conjunto. Gente que consegue fazer junção, por exemplo, entre o que diz e o que faz, o que sente e o que vive.
Dançar como metáfora de bem-viver, de usar o corpo que se tem, não é a segregação de partes desse corpo – nem do corpo com a alma pela divisão subjetiva – mas a “Unificação”, a conexão dessas partes. A Unificação é a fala do corpo, é um entendimento entre as partes.
Nem é desligar uma parte para ligar a outra, mas conseguir mantê-las ligadas e conectadas para dar o sentido de Unidade, de existência, para o corpo. É como um circuito elétrico. Como se cada membro do corpo tivesse um interruptor. Quando você desliga um e liga outro, você corta a corrente, fica um broken body, um corpo quebrado, despedaçado, sem unidade.
Trata-se de não colocar 100% da atenção em uma só parte, mas ter um percentual de atenção/luz/consciência nas mais diferentes partes. Ao caminharmos, as pernas “falam” com os braços, com o tronco, com o resto do corpo.
É o que Freud chamava de catexia. Podemos catexizar, quer dizer, colocar uma energia extra, perceber, fazer viver partes do corpo, palavras, situações, etc. E isso numa determinada harmonização, pois, se ligássemos todos os interruptores em um só lugar do corpo, eles adoeceriam de sobrecarga. Dá tanta dor de cabeça! Literalmente. Nesse caso, a divisão é a melhor resposta. Dividir para unir, como num caleidoscópio, que poderíamos a justa medida chamar de “caleidoscorpo”.
Para se conseguir dançar, a música precisa ter entrado dentro de nós. Música não nos aceita quebrados, ela só entra se estivermos completamente entregues, levados em seus braços. A música é um tipo de Unificação – que na teoria lacaniana é ter corpo. É o que nos dá a inebriante sensação de estarmos vivos, pulsantes, ensolarados.
Ensina-me o Felipe Perin, meu professor de dança, que, para dançar, primeiro sentimos o nosso corpo. Depois, só depois, sentimos o do outro. Na dança, sentimos numa quase sincronia o nosso corpo e o do outro. Cada movimento é fruto de um desejo de se jogar em algo desconhecido e fazer arabescos no ar – desenhar no Real, no indizível lacaniano.
Na dança não há errado. Na dança que eu danço, não tem erro porque não tem regra fixa, tem liberdade e invenção – o mesmo é possível na vida, se nos libertamos da eterna culpabilização e cobrança de perfeição do supereu.
Também é não estar na passividade nem na pressa. É só estar presente. Sem a ansiedade do que virá e a morte de estar parado.
O prazer de dançar a dois está em atingir parcialmente o imenso prazer de voltar a ser “dois em um” – de dois corpos se faz um –, como no começo da vida, quando parasitávamos o corpo materno. O primeiro dos muitos paraísos que conheceremos ou não, vida afora.
Dançar assim com o amor e com a vida nos dá o prazer do inesperado. Saber antes o que vai acontecer, saber o que o outro vai fazer, é mais fácil e mais pobre. O previsível parece seguro, mas só é tão seguro por ser fixo e morto. O imprevisível pode parecer caótico, mas é uma força que nos leva a criar, inventar novas respostas que nos libertam da mesmice das mesmas respostas, da tal rotina que ouvimos tanto e que mata o amor. Não só o amor. A repetição é a morte da própria vida.
Nunca pensei (logo eu, que tanto adoro saber) que viveria para dizer que, como na música, na vida, saber antes é empobrecedor.
Viva o desconhecido! Viva a surpresa! Viva a criação e a invenção!
—
Artigo originalmente publicado no jornal O Popular em 11 de junho de 2015.